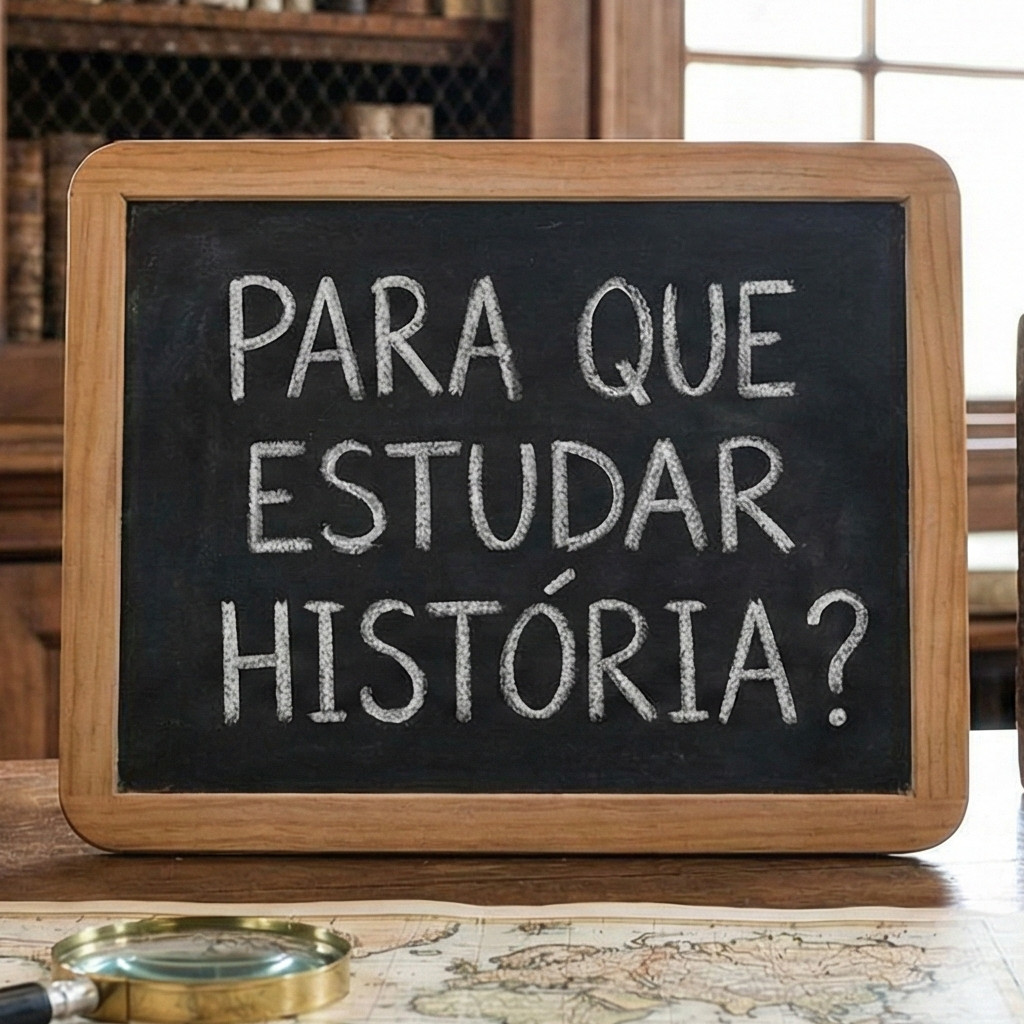Não era uma cidade de grandes prédios ou avenidas movimentadas. Era daquelas onde todo mundo se conhece pelo nome, onde o cheiro do café da tarde se mistura ao barulho do sino da igreja, e a escola ainda é um dos poucos lugares onde se acredita, de fato, no futuro. Eu era – e ainda sou – um desses teimosos que acreditam.
Meu nome não importa tanto agora. Mas o que importa é que eu sempre dei aula com o que tinha: a voz, a escuta, o tato e uma alma inteira, mesmo que meus olhos não me dessem tudo o que os outros viam. E era assim, com mais esforço do que técnica, que eu enfrentava os quadros cheios de giz e as apostilas mal diagramadas, tentando traduzir para os meus alunos um mundo que, muitas vezes, nem eu conseguia enxergar direito.
Mas havia dias… dias específicos em que eu era convocado para as formações oferecidas pelo governo local. Teoricamente, eram momentos de crescimento, trocas, escutas – um tempo para nos alimentarmos como profissionais. Só que, com o tempo, percebi que não era bem isso.
Quando o tema era inclusão, então, a situação se tornava um verdadeiro teatro do absurdo.
Subiam ao palco pessoas bem-intencionadas, é verdade. Mas carregadas de conceitos antigos, ideias empacotadas nos anos 80, cheias de termos como “coitadinho”, “limitações”, “problemas”, “sofrimentos” e outras palavras que mais ferem do que curam. E o pior: não havia ali nenhuma base científica real, nenhum diálogo com a neurodiversidade, com os estudos atuais sobre inclusão, nem com a vivência das pessoas com deficiência. Era tudo muito… raso. Dolorosamente raso.
A indignação me invadia como um trovão.
Não era apenas o que diziam – era o jeito como diziam. Era o riso abafado no canto, o olhar enviesado de quem acredita estar ensinando algo revolucionário quando, na verdade, apenas repete preconceitos com palavras novas. E eu, ali, sentado, tentando respirar fundo, com as mãos suando frio, me perguntava: “Será que vale a pena levantar mais uma vez?”
Mas eu levantava.
E falava. Dizia que deficiência não é destino, é diversidade. Que inclusão não é favor, é direito. Que não se ensina com pena, mas com ferramentas. Tentava, com a pouca paciência que restava, iluminar aquela escuridão de achismos e falas mal embasadas. E às vezes, confesso, perdia o tom. A indignação tomava conta de mim como uma enchente: invadia, transbordava, me tirava do eixo. Eu queria gritar. Não por mim – mas por todas as crianças que teriam aqueles professores como referência. Por todos os alunos com deficiência que seriam vistos com dó, com medo ou com descaso.
A pergunta que me ronda até hoje é:
Será que a indignação, a ponto de sair do controle, pode ser diminuída por um silêncio sepulcral?
Sabe, esse silêncio… ele vem. Depois de tudo, ele vem. Quando você percebe que ninguém vai retrucar. Que vão te ouvir por obrigação, que vão te chamar de exaltado, de sensível demais. Que vão continuar chamando os mesmos palestrantes, dizendo as mesmas frases feitas.
Esse silêncio não é paz.
É opressão disfarçada. É o som do cansaço. E o mais perigoso: é o primeiro passo rumo à desistência.
Mas eu sigo. Porque o meu papel como professor com deficiência não é só ensinar conteúdos. É abrir frestas. É ser o incômodo necessário. E se um dia eu calar, que seja apenas para respirar fundo e voltar com mais firmeza. Porque há uma geração inteira que depende do nosso incômodo para existir com dignidade.
E se for preciso falar mil vezes para silenciar o preconceito… que venha a milésima primeira.